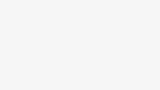Taqui está uma teoria de que o mundo saiu de seu eixo com a morte de David Bowie, 10 dias depois de janeiro de 2016. Também foi dois dias depois de seu último álbum, Blackstar, ter surgido do nada. Como afirmação artística, foi profético e impecavelmente teatral. Um documentário de longa-metragem agora lança uma luz negra sobre a gravação desse álbum, que alguns chamam de ressurreição criativa de Bowie. O que isso revela? E queremos revisitar esse lugar, emocionalmente?
Felizmente, Bowie: The Closing Act (sábado, 3 de janeiro, 22h, Canal 4) não vive apenas nas catacumbas. Começa no auge da fama pop de Bowie: a turnê Critical Moonlight de 1983, onde Skinny White Duke se tornou o herói do soul americano. Esse estrelato aprovado pela MTV e indutor de anúncios da Pepsi foi o início de um tédio que estancou sua carreira, com a voz artística de Bowie secando sob as luzes brilhantes que ele procurava. Em seguida, ele retorna ao início de sua jornada musical, nos levando através de seus destaques. Com uma mitologia tão sísmica seria um crime não fazê-lo. David Bowie inventou a aparência de servir, você sabe. Eles simplesmente vieram de outro planeta.
Os contribuidores são decentes. Eles incluem membros das bandas de Bowie, amigos, os produtores Tony Visconti e Goldie e o romancista Hanif Kureishi. Este último lembra – sem rancor – a forma como Bowie fazia amizades intensas com pessoas interessantes como ele, absorvendo tudo o que precisava, antes de abandoná-las e seguir em frente. É um lembrete importante de que os gênios criativos tendem a deixar muitos detritos pessoais em seu rastro. Moby também aparece, com uma tatuagem no pescoço que diz Vegan for Life. Isso não é relevante, mas distrai.
O tema incomum do filme são as notas menores de uma carreira estelar. Os álbuns mal recebidos, as crises de confiança. Em uma cena difícil, o escritor do Melody Maker, Jon Wilde, lê uma crítica escabrosa que escreveu sobre Tin Machine II, que termina com as palavras: “Sente-se, cara: você é uma desgraça”. Bowie supostamente chorou ao ler. Como alguém que começou na crítica musical sarcástica, senti formigas sob a pele enquanto assistia.
Os empreendimentos menos bem-sucedidos de Bowie foram em grande parte reavaliados. Tin Machine, sua tentativa de ser um jogador secundário em uma banda de rock convencional, ainda ganha destaque. “Uma banda muito ruim, com um nome muito ruim”, avalia o editor Dylan Jones. “Ternos de cafetão Vulcano” é como o líder da banda, Reeves Gabrels, descreve suas roupas reais – sem gola, duas peças coloridas. Há fascínio aqui também: por que um deus do rock de outro mundo, um andrógino que não consegue se misturar à multidão mais do que um flamingo com casaco de pele, desejaria ser apenas “algum cara de uma banda?” O gênio é solitário, é a implicação.
Flashes de supernovas, buracos negros e estrelas negras reaparecem ao longo do filme, um leitmotiv da mortalidade. É difícil assistir a imagens de Bowie saindo do palco em Praga com dores, enquanto sua doença se afirmava. Ele deixou os holofotes por 10 anos, aproveitando a vida acquainted enquanto podia. Depois de passar pela quimioterapia, ele gravou seu álbum mais solitário e vulnerável, com pleno conhecimento do que estava por vir. Há dignidade e coragem nos compositores que conseguem fazer isso. Penso em Warren Zevon, Leonard Cohen. É o presente ultimate, estejamos prontos para recebê-lo ou não.
O filme do diretor Jonathan Stiasny não é uma hagiografia, mas é evidente que ele ama o mito de Bowie tanto quanto qualquer um. Graças a Deus. Há êxtase nessas imagens de Ziggy Stardust, aquele rosto imortal sob todas as reinvenções, o cabelo que ficou perfeito. Há uma felicidade nostálgica nas histórias dos parques infantis de Bowie – Londres dos anos 60, Nova Iorque dos anos 70. Há imagens em preto e branco de um Glastonbury encharcado de ácido, quando o público do competition period formado por hippies nus que entravam. Bowie caminhou para sua primeira apresentação lá e acabou tocando às 5 da manhã.
Há também o clipe incrível da entrevista de Bowie no Newsnight de 1999 com Jeremy Paxman, onde ele previu o mundo caótico e mediado pela Web em que vivemos hoje. Eu me pergunto o que ele teria achado da IA. Sinto falta dele e do que ele representava. Um farol para os desajustados, um campeão da criatividade sem horizontes nem medos. Ele period icônico e de outro mundo. Mas no ultimate das contas a arte e o homem eram dolorosamente humanos.